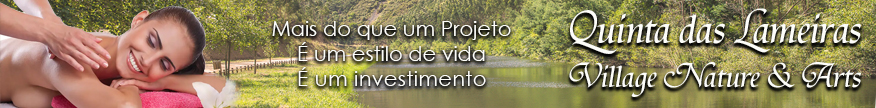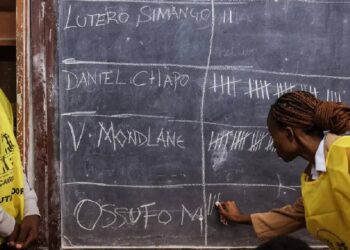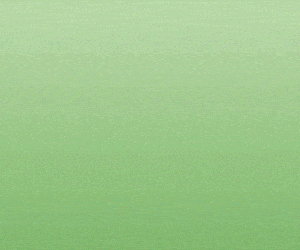A curiosidade por uma língua com uma estrutura distante do português foi o que levou o tradutor Amilton Reis, 51 anos, a descobrir o chinês, ainda como estudante na Universidade de São Paulo, Brasil, nos anos 90. Em 1996, partiu então para um ano de estudos na China.
“O Chinês é uma língua que se começa a estudar e nunca mais se para”, brinca. “Se paramos de estudar, esquecemos. E, enquanto estudamos, estamos sempre a descobrir coisas novas”.
Ao contrário do português, o chinês não tem flexões, tempo verbal, plural ou género. É tudo entendido pelo contexto. Apesar das diferenças entre os dois idiomas, nalguns pontos acabam por se aproximar, refere o tradutor, “em certas expressões, formas de falar, especialmente na linguagem coloquial”.
Reis conta que, nas suas primeiras traduções, costumava recriar algumas expressões chinesas em português, traduzindo quase literalmente, e funcionava, na maioria das vezes.
“A crença geral, para quem não trabalha com a tradução, é que esta é uma tarefa fácil. Podemos colocar no computador, descobrir a palavra equivalente em português, e temos uma tradução literária perfeita. Quer dizer, o pessoal não tem a noção do quão difícil é reproduzir um texto literário, que tenha um produto literário também. É um trabalho artesanal, que tem de se ir polindo e são várias camadas para chegar a algo satisfatório”, diz.
“Apesar de todo este trabalho, não é valorizado ao mesmo nível. Praticamente reescreve-se um romance e não se tem direitos autorais naquilo, nem uma remuneração que permita viver da tradução literária”, avalia Amilton Reis sobre as condições do trabalho como tradutor no Brasil.
Em 2012, quando Mo Yan foi eleito Nobel da Literatura, este tradutor foi convidado por uma editora brasileira para traduzir uma novela breve do escritor chinês, ainda não tão conhecido no Brasil — “Mudança”. Reis conta que era principiante em traduções literárias, na altura. Depois, traduziu ainda “As rãs”, um romance maior, sobre a época das políticas de planeamento familiar.
Hoje, o tradutor trabalha num doutoramento com um autor que foi precursor da chamada “literatura da terra nativa”, da qual Mo Yan é um dos expoentes máximos. Shen Congwen, que teve um trabalho intenso especialmente nos anos 1930, chegou a ser indicado para o Nobel, mas morreu pouco tempo antes da distinção. Reis conta que a sua obra passou cerca de três décadas no ostracismo, sem ser publicada na China continental ou em Taiwan, até aparecer num compêndio que reunia literatura chinesa, nos Estados Unidos, nos anos 60.
O motivo que levou o autor ao esquecimento ao longo de tantos anos, explica Reis, foi o facto de não se ter alinhado a nenhum espectro político. “Mas não era isento, muito pelo contrário. Ele era muito crítico a tudo. Tinha outra conceção do que era literatura, não a concebia como propaganda de forma alguma”, ressalta.
Numa das suas temporadas na China, Reis trabalhou em tradução num serviço de notícias de chinês-português, numa rádio estatal, pouco antes das Olimpíadas de Pequim, em 2008.
Hoje, na contramão de um discurso político anti-China no Brasil, diz que dá conta de muita curiosidade e “um aumento de interesse pelo país asiático”, com mais podcasts, grupos de estudo dentro e fora das universidades, pessoas interessadas na própria cultura chinesa, para além de aprender apenas o idioma.
“Enquanto a China tem cerca de 50 universidades, hoje, com curso de português, o Brasil ainda tem apenas a Universidade de São Paulo”, onde Reis se formou.
Com a maioria dos tradutores ainda em formação, a escassez por quem faça traduções chinês-português, “é também um dos obstáculos para um grande projeto da literatura chinesa no Brasil, na linha do que a Editora 34 faz com as traduções diretas do russo, desde o início dos anos 2000”, aponta.
O projeto da editora trouxe muitas traduções diretas pela primeira vez ao português, como a obra de Fiodor Dostoiévski (1821-1881), e lançou um “boom” de autores russos entre os leitores brasileiros — antes, os títulos publicados no Brasil costumavam ser versões baseadas em edições francesas.
Em agosto de 2021, a editora da Universidade de Campinas (Unicamp), outra instituição brasileira, também no estado de São Paulo, anunciou o lançamento de uma série de clássicos da literatura chinesa, em parceria com o Instituto Confúcio, começando por “Flores matinais colhidas ao entardecer”, uma coletânea de memórias de Lu Xun, em edição bilíngue.
O objetivo, segundo o representante do instituto, Bruno Conti, em entrevista ao site da universidade, “é contribuir para a redução de uma lacuna na formação da maior parte da população brasileira, que diz respeito a um profundo desconhecimento sobre a cultura chinesa”.
Lu Xun é conhecido como “ícone do modernismo chinês e pioneiro no uso do chinês vernacular, uma forma de chinês escrito que incorpora as variedades linguísticas de todo o país”. O texto divulgado “trata-se de uma oposição ao chinês clássico, cuja escrita é padronizada e adotada na China imperial até o início do século XX”.
A editora Unesp também já fez uma parceria com o instituto em publicações como “Os Analectos”, de Confúcio, o Dao De Jing e uma coletânea de poemas da dinastia Tang, lembra Reis.
“Eles (chineses) têm essa consciência de que é importante conhecer o outro, não só com o português, mas como mundo inteiro”, remata o tradutor.
Fonte: Global Voices